ENTRE O PALCO E A PÁGINA: O TEATRO DE PAPEL DE HENRY SUGAR
- Verônica Daniel Kobs

- 10 de ago. de 2025
- 13 min de leitura
Publicado em 1977, em uma coletânea, o conto A maravilhosa história de Henry Sugar é uma das obras mais singulares de Roald Dahl, autor amplamente conhecido por suas histórias infantis cheias de imaginação e irreverência. Neste conto, voltado ao público jovem-adulto, Dahl entrelaça elementos de fábula, misticismo e crítica social para narrar a transformação de um homem rico e egoísta após descobrir um manuscrito sobre poderes de concentração e meditação. A história se destaca não apenas pelo enredo envolvente, mas também pelo tom reflexivo e pela estrutura narrativa que desafia os limites entre ficção e realidade.
Quase cinquenta anos depois, em A incrível história de Henry Sugar (2023), Wes Anderson leva ao extremo sua estética da encenação, transformando a adaptação do conto de Roald Dahl em um experimento narrativo que brinca com os limites entre literatura, teatro e cinema. O curta, com pouco menos de 40 minutos, é uma coreografia visual e verbal onde tudo parece estar à vista. No entanto, é justamente nesse gesto de mostrar o mecanismo por trás do filme que reside o encanto.
Desde os primeiros minutos, a mise-en-scène se impõe como estrutura dominante: personagens frontalmente enquadrados, simetrias rigorosas, câmeras imóveis ou que deslizam lateralmente como quem vira páginas de um livro tridimensional (Figs. 1, 2 e 3). Os cenários são abertamente artificiais. Painéis se abrem e se fecham, sobreposições e pinturas artificializam as ações e assistentes entram em cena para acionar engrenagens. É como se estivéssemos diante de um teatro de papel animado, e Anderson não só admite o artifício, como o celebra. Não há bastidores: o espectador é convidado a ver como o palco funciona.

Figura 1: Simetria e formas geométricas em cenário azul.
Todas as imagens foram capturadas pela autora deste texto, durante a reprodução do filme (Netflix, 2025).

Figura 2: Simetria e formas geométricas em cenário branco (Netflix, 2025).
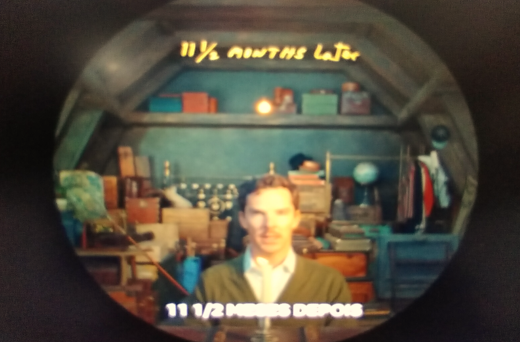
Figura 3: O efeito da câmera redonda reforça a simetria (Netflix, 2025).
Há, ao longo do curta, um gesto constante de autorreflexividade que inscreve A incrível história de Henry Sugar no campo do metacinema. A narrativa não apenas se conta, mas se exibe contando-se. A presença do narrador em cena, a frontalidade da fala, a visibilidade dos bastidores e o uso de truques à vista criam uma espécie de espelho narrativo: o filme fala sobre si mesmo, enquanto se desenrola. Tudo colabora para o desmonte da ilusão cinematográfica clássica, principalmente quando os atores trocam de figurino diante da câmera, os painéis se movimentam para revelar novos cenários e os objetos deslizam como peças manipuladas à mão (Figs. 4, 5 e 6). Essa estratégia de escancarar a construção dramatúrgica do cinema não funciona como quebra, mas como estilo: um convite ao espectador para que participe do jogo da fabulação. O curta destaca o fato de que o cinema é, antes de tudo, uma forma de contar histórias e, nesse contexto, as formas importam tanto quanto os enredos. Segundo Aumont (2003, p. 254), a reflexividade representa o elemento visual mais característico de temas amplos, como a presença do filme dentro do filme, a autorreferência do cinema sobre o cinema e a técnica da construção em abismo.

Figura 4: O cenário é levantado e revela uma réplica em miniatura ao fundo (Netflix, 2025).

Figura 5: Sobreposição de painéis pintados: um se abre e já aparece uma nova pintura (Netflix, 2025).

Figura 6: Nesse painel, a abertura mostra um trem de brinquedo em movimento (Netflix, 2025).
A cor é usada como atmosfera afetiva: tons quentes dominam a narrativa principal, criando uma textura de fábula envelhecida, enquanto as cores frias mostram o protagonista em sua mansão, isolado do mundo e assolado pela solidão (Fig. 7). Cada transição de cor reforça o que a narrativa já sugere: estamos em um conto que se dobra sobre si mesmo, em camadas de ficção que se apresentam não como ilusão, mas como encenação (Figs. 8 e 9). Nesse contexto, os planos de fundo com cenários pintados ou cenas projetadas fazem o público experimentar diferentes efeitos de artificialidade e falseamento:

Figura 7: Cômodo azul, na mansão de Henry Sugar: o quadro e o homem no guichê lateral artificializam a cena (Netflix, 2025).

Figura 8: Nova artificialização obtida pela sobreposição do carro em um cenário com imagem projetada (Netflix, 2025).

Figura 9: Cena que mostra objetos tridimensionais com painel pintado ao fundo (Netflix, 2025).
O rigor estético de A incrível história de Henry Sugar se estende não apenas às cores, mas à geometria dos espaços e à organização plástica dos figurinos. Anderson parece operar com uma lógica pictórica: os cenários são compostos por linhas horizontais e verticais claramente demarcadas, formas planas que lembram maquetes ou recortes de papel, onde cada elemento parece se encaixar com precisão gráfica. Essa geometria visual por vezes é reforçada pela harmonia entre o ambiente e as roupas dos personagens, que muitas vezes repetem cores, padrões e texturas do fundo em que se inserem. Assim, a figura humana não se destaca propriamente do espaço, mas se integra a ele como parte de uma composição visual total (Fig. 10). Raramente o diretor opta pelo contraste. Na maior parte das cenas, esse gesto de estreita sintonia entre as cores dissolve a hierarquia entre personagem e cenário: ambos são tratados como formas plásticas submetidas à mesma lógica ornamental. A estética passa a ser um princípio narrativo e o excesso de coesão visual reforça a ideia de um mundo fabricado.

Figura 10: O vermelho e seus matizes: sintonia de cores no cenário e no figurino (Netflix, 2025).
Esse jogo entre contar e mostrar se torna ainda mais evidente no uso da narração direta. Os personagens olham para a câmera e falam com o espectador como se estivessem em uma conversa íntima. A quarta parede não é quebrada ocasionalmente. Na verdade, ela nunca existiu. O olhar direto e constante cria uma relação de cumplicidade: o espectador deixa de ser mero observador e passa a ser interlocutor, parte da engrenagem narrativa. A fala não é naturalista, mas frontal, declamatória, cadenciada, além de ser pontuada por pausas precisas. Dessa forma, cada interrupção funciona como um respiro e convida o público à escuta, incentivando, em muitos casos, a contemplação silenciosa da imagem. É uma oralidade que remete ao contador de histórias tradicional, mas encarnada no gesto calculado de atores que transitam entre persona, personagem e narrador.
A frontalidade não é nova no cinema de Wes Anderson, mas aqui atinge um nível de refinamento formal que dialoga diretamente com a literatura de Roald Dahl, especialmente em seus contos mais metalinguísticos, onde o narrador intervém, opina, manipula e ironiza. Assim como em outras obras de Dahl — O fantástico Sr. Raposo, Matilda, Os gremlins —, a narrativa de Henry Sugar trata a ficção como construção lúdica e deliberada, e Anderson responde a essa proposta com uma linguagem que também assume a farsa como forma.
O diretor privilegia os aspectos visual e narrativo, ambos tensionados por uma espécie de descompasso calculado entre a velocidade da narração e a lentidão do corpo. Enquanto os personagens falam em ritmo acelerado, com dicção clara e contínua, os movimentos que acompanham essas falas são muitas vezes caricaturalmente lentos e coreografados. O gesto não segue o impulso da fala. Em vez disso, ele parece operar em outra frequência, quase como se o corpo estivesse em desacordo com o tempo da voz. Os movimentos são coreografados e há espaço para gestos exagerados, variações de entonação e expressões faciais realçadas. Na maioria das cenas, é como se o teatro interferisse no cinema. Segundo Irina Rajewsky, esse tipo de combinação reflete a “impossibilidade de ir além de uma única mídia” e, nesse processo, “uma diferença midiática se revela — uma ‘fenda intermidiática’ — que um texto intencionalmente esconde ou exibe, mas que, de qualquer forma, pode ser transposta somente no modo figurativo do ‘como se’” (Rajewsky, 2005, p. 55, grifo no original). Por essa razão, o público assiste a algumas cenas “como se” estivesse vendo uma peça de teatro (e não um filme).
Essa separação entre linguagem e ação reforça a lógica performativa do filme: nada ali é espontâneo, tudo é dirigido, ensaiado, ritmado em camadas. A pressa da fala e a lentidão dos gestos tornam-se índices visíveis de artificialidade, como se a fábula narrada precisasse ser travada, desacelerada, encenada milimetricamente para não se perder em sua própria fluidez. O corpo, mesmo quando desacelerado, não é apagado. Ele é coreografado como parte da maquinaria do contar. Outro detalhe fundamental, quando se combina o corpo à performance, é que, de acordo com Fischer-Lichte (2008, p. 203), essa estética corresponde a poéticas que rompem limites, buscando constantemente ultrapassar fronteiras fortemente enraizadas que passaram a ser percebidas como naturais. Isso corrobora a artificialidade buscada por Anderson, no curta-metragem em análise.
Esse descompasso rítmico encontra eco também na relação entre narração e enquadramento. Em diversos momentos, a imagem persiste em mostrar personagens já abandonados pela narrativa, como se o plano resistisse ao avanço da história. A câmera permanece fixa em figuras que foram deixadas para trás pelo enredo, como se o tempo da imagem e o tempo da fábula não coincidissem. Essa defasagem produz um efeito de suspensão, em que o olhar do espectador se fixa num corpo imóvel enquanto o texto já se projeta para outro episódio. A persistência do enquadramento sobre o que já passou (personagens congelados e cenários não atualizados) opera como um gesto de desaceleração da fabulação, um lembrete de que estamos assistindo não a uma história que acontece, mas a uma construção deliberada que se descola da lógica contínua e realista do tempo narrativo clássico. Aqui, também, o tempo do corpo resiste ao tempo do discurso.
Como se vê, além da consciência de linguagem cinematográfica, o curta se estrutura como um verdadeiro gesto intermidial: há resquícios do teatro, do rádio, do livro ilustrado e da contação oral. A cenografia em painéis móveis e a frontalidade da atuação remetem ao teatro de proscênio, enquanto a cadência da fala e as pausas evocam a escuta atenta de uma narração radiofônica. Já a organização visual das cenas, com seus enquadramentos centrais e sucessão de quadros estáticos, faz pensar nas páginas de um livro infantil, em que cada cena surge como uma novidade. Essa mistura deliberada de linguagens reforça a artificialidade da encenação e dilui as fronteiras entre as mídias.
O elemento complicador é que justamente aí reside o paradoxo da metalinguagem. Mostrando os bastidores, o diretor privilegia a transparência. No entanto, esse efeito é rapidamente substituído pela opacidade, pelo fato de Anderson explorar diversos níveis narrativos. Com isso, o filme pode ser considerado uma espécie de mosaico sensorial e intertextual, em que cada referência contribui para a experiência híbrida da fábula. Sem dúvida, isso responde às características da sociedade atual, marcada pela confluência e pela velocidade. Afinal, é necessário que sejam feitas atualizações em um texto que é reapresentado ao público, quase meio século depois de ter sido lançado. De 1977 a 2023, houve inúmeras transformações e a maior delas diz respeito à Informática e à tecnologia digital, que normalizou textos multimodais e incentivou a apropriação das histórias por diferentes tipos de mídia. Dessa forma, segundo Robert Stam: “Já que as adaptações fazem malabarismos entre múltiplas culturas e múltiplas temporalidades, elas se tornam um tipo de barômetro das tendências discursivas em voga no momento da produção” (Stam, 2006, p. 48). Em outras palavras, Anderson reconfigura o conto de Dahl, usando uma estética que atende às expectativas do público atual, acostumado à celeridade e à fragmentação, e, ao mesmo tempo, obedece ao seu próprio estilo, simétrico, vibrante e excêntrico.
A história de Henry Sugar é estruturada em camadas, com narrador, personagem e narrador do narrador. Essa sobreposição de vozes e níveis narrativos é radicalizada quando um mesmo ator assume múltiplos papéis ao longo do curta (narrador e personagem). Consequentemente, a identificação visual se embaralha. O rosto do ator é constante, mas sua função dentro da fábula muda, o que exige do espectador um duplo pacto: acompanhar a história e, ao mesmo tempo, lembrar que está vendo uma performance múltipla. Essa escolha desmonta a ilusão de individualidade dramática, já que o ator não representa apenas um sujeito ficcional. Ele também se torna um operador da narrativa, reaparecendo em diferentes momentos e papéis, o que reforça o caráter metateatral do curta-metragem. A identidade cênica é fluida, e o filme transforma o rosto do ator em signo da fabulação. Repetido, recontextualizado, sempre visível, ele funciona como uma peça de um jogo cênico que rejeita o realismo psicológico.
Esse recurso que valoriza e complexifica a narração é recorrente na obra de Anderson, como demonstram The Grand Budapest Hotel e, mais recentemente, The French dispatch, filmes que também operam como coleções de histórias contadas dentro de outras. No curta protagonizado por Sugar, porém, há uma distinção. Essa lógica é condensada em um formato curto, o que torna o rigor do artifício ainda mais evidente. Não há espaço para o respiro do realismo. Por isso, tudo é feito para ser mostrado, inclusive os bastidores.
Ao final, o que se impõe é a força da narração como encenação. Contar uma história, aqui, é assumir todas as suas dobras (visuais, sonoras, materiais...). Anderson nos convida a assistir à fabricação da fábula, não escondendo os fios, mas expondo suas costuras. E ao fazer isso, ele se alinha a Roald Dahl não apenas como adaptador, mas como cúmplice de um mesmo gesto artístico: mostrar que a magia está tanto na história quanto na forma como ela é contada. Em A incrível história de Henry Sugar, narrar é, antes de tudo, encenar — e o encantamento vem exatamente daí.
É nesse sentido que A incrível história de Henry Sugar não se limita a ser uma homenagem ao texto original, mas se torna também uma meditação sobre o próprio ato de narrar. Sua beleza está na estética precisa e na honestidade de sua construção, que recusa o naturalismo e aposta tanto na frontalidade da linguagem quanto na coreografia dos elementos. Sendo assim, Wes Anderson destaca que toda narrativa é artifício e assumir isso, com graça e rigor, pode ser tão poderoso quanto esconder. O curta não quer parecer espontâneo, fluido ou realista: quer parecer construído. Portanto, quando ele consegue alcançar esse efeito, por meio de inventividade e transparência (até certo ponto, já que a metalinguagem sempre envolve um paradoxo), o artifício transforma-se em poética. Ao fim, o espectador não sai iludido, mas encantado. Não por ter esquecido que viu um filme, mas por ter participado da produção de forma técnica. Em outras palavras, o espectador não vê apenas o produto final. Ele vê o filme acontecer. Essa consciência formal, que transforma recursos cênicos em linguagem e a construção visível em fonte de encantamento, não se esgota na autorreflexividade estilística. Ela também responde a um contexto mais amplo, no qual corpo e espaço vêm sendo progressivamente apagados pelas mediações digitais.
Portanto, a performance em A incrível história de Henry Sugar pode ser lida como uma resposta estética à virtualização da experiência promovida pelas tecnologias digitais, sobretudo diante do que Hans Ulrich Gumbrecht, em entrevista concedida a Luciana Queiroz, identifica como um processo de eliminação do espaço — e, portanto, do corpo — na cultura eletrônica contemporânea. Inspirado por André Leroi-Gourhan, Gumbrecht afirma que “não qualquer tecnologia, mas especificamente a tecnologia eletrônica tem um efeito não de reduzir, mas de eliminar o espaço”, e complementa: “eliminação do espaço é, então, eliminação do corpo” (Gumbrecht; Queiroz, 2018, p. 1091). Nesse contexto, o curta de Wes Anderson se impõe como uma forma de reencarnação sensível da narrativa. Ao expor a encenação e tornar visível o mecanismo da fábula, o filme devolve à narração uma corporalidade deliberada. A frontalidade das falas, os deslocamentos coreografados e o uso de objetos concretos não apenas constroem um estilo, mas ativam um espaço físico perceptível, experienciado visual e ritmicamente pelo espectador.
A mise-en-scène não quer parecer natural: quer afirmar sua presença. Em vez de se dissolver na fluidez desmaterializada das imagens digitais, a narrativa se ancora em corpos que ocupam o quadro com suas pausas, suas vozes e seus gestos visíveis. Nesse sentido, a performance não é apenas uma escolha estética, mas uma resistência existencial, uma maneira de reconfigurar o espaço narrativo como espaço vivido, e não apenas transmitido. Ela enaltece acontecimentos, pessoas e ambientes do cotidiano, transformando-os em um verdadeiro espetáculo, ainda mais quando combinada com a plasticidade vigorosa das obras de Wes Anderson. Segundo Fischer-Lichte (2008, p. 99), a presença não revela algo excepcional, mas destaca o surgimento do que é trivial.
Essa lógica da exposição do artifício também se manifesta na maneira como o filme lida com as hipóteses narrativas. Em certos momentos, vemos encenações de possibilidades — ou seja, do que poderia acontecer — dramatizadas com o mesmo grau de precisão cênica que os eventos que realmente ocorrem. O espectador é conduzido a uma encenação condicional, como se estivesse vendo não o fato, mas sua projeção imaginada. Contudo, com o avanço da narrativa, essas cenas hipotéticas se revelam, na verdade, como flashforwards. Dessa forma, o filme borra a fronteira entre possibilidade e realização, entre previsão e memória. Ao transformar o talvez em cena, Wes Anderson inscreve a imaginação dentro do próprio corpo narrativo, expandindo a mise-en-scène para além do real narrado: ela inclui também o virtual, o porvir, o pensamento em ato. Mais uma vez, a encenação se impõe como forma de pensamento — e não apenas de representação.
Tal recurso narrativo, que encena o virtual com a mesma concretude do real, não apenas amplia o escopo expressivo da fábula, mas também desloca o espectador de uma posição passiva para uma escuta mais crítica e atenta. Em vez de oferecer uma narrativa fluida e transparente, que guia passivamente o olhar e o entendimento, A incrível história de Henry Sugar convoca o público a participar ativamente da decifração da fábula. É preciso reaprender a assistir: distinguir níveis de narração, acompanhar as trocas de papel dos atores, lidar com o descompasso entre voz e corpo, aceitar que o talvez também é imagem e gesto. O filme exige novas habilidades perceptivas, mas oferece, em troca, uma experiência estética mais rica, mais reflexiva, mais lúcida sobre os mecanismos da linguagem visual. Para um espectador habituado à lógica das plataformas, com seu ritmo veloz, seu realismo fácil e sua fluidez algorítmica, esse cinema de encenação e suspensão pode parecer incômodo. Porém, é justamente nesse estranhamento que reside sua potência crítica. Ao nos tirar da zona de conforto, Anderson não nos afasta da narrativa: ele nos reintegra a ela como parte do processo. Seus quadros estáticos, suas repetições, suas camadas fabulares não são obstáculos, mas convites que levam o espectador a ver, pensar e escutar com mais atenção. Em tempos de saturação imagética, A incrível história de Henry Sugar enaltece a narrativa e a narração como atos de resistência sensível.
REFERÊNCIAS
A INCRÍVEL HISTÓRIA DE HENRY SUGAR. Direção de Wes Anderson. EUA; UK: Netflix; Netflix, 2023. AVCHi-Mobile (39 min).
AUMONT, Jacques. Dicionário teórico e crítico de cinema. Campinas: Papirus, 2003.
DAHL, Roald. A incrível história de Henry Sugar e outros contos. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
FISCHER‑LICHTE, Erika. The transformative power of performance: a new aesthetics. London; New York: Routledge, 2008.
GUMBRECHT, Hans U.; QUEIROZ, Luciana M. Na presença de Hans Ulrich Gumbrecht: uma entrevista. Remate de males, v. 38, n. 2, Campinas, jul./dez. 2018, p. 1083-1106.
RAJEWSKY, Irina O. Intermediality, intertextuality and remediation: a literary perspective on intermediality. Intermédialtés / Intermedialities, n. 6, Montreal, 2005, p. 43-64.
STAM, Robert. Teoria e prática da adaptação: da fidelidade à intertextualidade. Ilha do Desterro, n. 51, Florianópolis, jul./dez. 2006, p. 19-53.
--------------------------------------
* Verônica Daniel Kobs: Professora e Coordenadora do Mestrado e do Doutorado em Teoria Literária da UNIANDRADE. Professora Visitante do Mestrado e do Doutorado da Florida University of Science and Theology. Autora do blog Interartes (https://danielkobsveronica.wixsite.com/interartes). Em 2018, concluiu o Pós-Doutorado na área de Literatura e Intermidialidade, realizado na UFPR.
Acesse o Blog Interartes: Artes & Mídias pelo QR Code:






Comentários